49 faixas.... "family feud" :: VON SÜDENFED :: Tromatic Reflexxions (2007)

É cretinamente delicioso chegar ao final de Dezembro e perceber que há um e um único candidato à posição de MC do ano. Posição a ser ocupada por um tipo de não-tão-tenra idade, com um passado (e presente) de arestas bem fendidas por riffs de guitarra, digno ostentador do signo do chauvinismo europeu (com uma ácida agravante chamada Reino-Unido pelo meio). O feliz contemplado com o dito título reencontrou o seu espaço naquele que será o álbum do ano e, pisando sem receios o terreno da musicologia astrológica, do novo milénio. Um álbum, no limite, de electrónica alemã que assinala – sob o risco de instalar uma tempestade estética no ouvinte mais atento – o renascimento do punk!
A história dos 3 acordes pode ser desde já subtraída da equação e na verdade não há que ter receio do caos de referências: os Von Südenfed são nossos amigos e foi com coerência e propriedade que em 2007 fizeram o punk soar ao que sempre devia ter soado. Usam samplers, sintetizadores e parafernália auxiliar (guitarras, claro), atropelam o ouvinte com electrónica enxuta que suporta a melhor neofilologia britânica e fazem a geração digest nu-rave/punk disco corar de vergonha por ser… bem… o que é. Assim como o mais inspirado hip hop, big beat favelado e alguma IDM (Inteligent Dance Music; célebre etiqueta musical que com três letrinhas apenas nos transforma a todos em potenciais imbecis), o espaço sonoro que este trio explora é industriado em batidas originais e na coerente combinação de blips/bloops com palavras suficientemente desconexas para manterem o ouvinte atento e demasiado certeiras para o deixarem alhear-se.

Von Südenfed encaixam na lógica de super-grupo: são o resultado da união de duas pontas que, a bem da verdade, andavam à deriva no marasmo da actualidade musical. De um lado o duo-dinâmico Mouse on Mars (electrónica de inspiração bíblica, apocalipticamente falando), do outro lado o über carismático Mark E Smith, vocalista dos Fall, banda que durante os anos 80 assumiu a função prevaricadora da mais atenta e bocejante inteligenzia britânica. À produção basculante e obesa dos MoM, Smith reage com frases semi-conexas, instigação q.b. e com sentidos quase despertos. Um toaster jamaicano de fígado arruinado e enfadado de morte. Um novelo a várias cores; uma presumível montanha de incongruência que pariu um filho bastardo, mas assertivo.
O nome do grupo é, em si, um décimo-primeiro canto para os Lusíadas. Em termos rasteiros, dir-se-ia que resulta da combinação do nome de uma aldeia alemã (que é referência familiar para metade dos Mouse on Mars) com nome de xarope de tosse. É verdade, mas serve também de útil introdução à ilusória displicência com que estes três músicos encaram o processo criativo. Ilusória porque Von Südenfed é um exercício pleno de premeditado desequilíbrio em que o deboche dos beats (hip hop lango, yo!) convida um presunçoso Mark E Smith a acelerar vocalizações – quase impossível para quem tem tanto para não dizer em tão pouco tempo – e em que o fledermaus tenta a todo o custo impingir uma guitarrada ou outra e estrebucha para que os alemães excessivamente excitados o deixem falar.
Bem-vindos pois a Tromatic Reflexxions, primeiro tomo de uma nova irmandade transeuropeia. Um portento de um álbum em toda a sua extensão: Fledermaus can’t get it abre as hostilidades e cumpre sobriamente (permitam-me: lol) o papel de declaração de intenções – confiram o tom sóbrio no videoclip que deu desde logo nova profundidade ao projecto. Flooded é o hino de toda uma não-geração, a acendalha que possibilitou o regresso em pornográfica forma do Mark E Smith, que aproveita desde logo para reclamar os louros que outros lhe andaram a pilhar nos últimos anos. Por outros, e na integrada visão de Mark E Smith, entenda-se toda a corja de filhos de puta ressabiados que, armados em necrófagos culturais, vivem tão-somente à custa do imenso espólio/legado de sua E.minência. Majestosamente britânico. Mas nem só de dinamite se faz Tromatic Reflexxions R. Há espaço para jardinagem e reflexões sobre a neoescravatura (JBack Lois Lane), para um ensaio sobre a fobia alemã de Osterre, para o verdadeiro regresso dos Fall (The Rhinohead), para sessões de tareia à antiga, para duas ou três notas culinárias e para a inigualavelmente humana Dear Dead Friends.
É relativamente ingrato destacar faixas num álbum que – saltem o parágrafo vivem bem sem clichés – consegue ser tão maior que a soma de cada uma das suas doze partes. Daí que a faixa que a partir de hoje se disponibiliza no nem1nome tenha sido seleccionada por uma funcionalidade do iTunes. Quis o destino – também conhecido como shuffle – que ficasse tudo em Family Feud. 
Seja o que for que os Von Südenfed representam hoje em dia (resulta relativamente óbvio que não é fácil posicionar este álbum) ou que irão representar daqui a uns quantos anos, já fizeram o favor de deixar em domínio público um colossal monumento à capacidade europeia de transformar e capitalizar sobre ruínas – musicais, para o caso. Fizeram-no com particular classe, ao ponto de as tornarem pertinentes outra vez. Talvez a pretensão não seja nova (a estética é), mas o resultado obtido é impecavelmente fresco. Tudo em nome do Progresso, da Arte e de uns quantos litros de Suor. Na sua democrática essência: punk.
VON SÜDENFED :: FAMILY FEUD
PS :: Muito agradecido ao André (fluríco) que me deu Von Südenfed a ouvir, e à Isabel, que me deu ombro para chorar quando, no concerto de Von Südenfed na Apolo em Barcelona, o Mark E Smith resolveu fazer a coisa mais punk que se pode fazer num concerto: não aparecer. We’re European Scum!




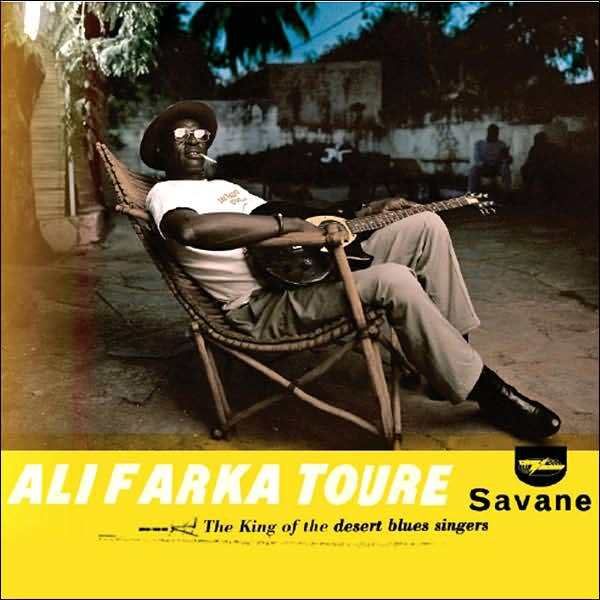


 Londres, outra vez. Aparentemente anda meio mundo a tentar perceber quem se esconde por trás do alter ego Banksy. Trata-se de alguém que faz da arte urbana – leia-se qualquer coisa entre o grafitti, o stencil e a intervenção criativa pura e dura – a sua vida e que demonstra ter um discurso social (e político, inevitavelmente) coeso e consciencioso. Talvez o teor das mensagens que tenta passar não seja extraordinariamente profundo ou original – discurso anti-, infelizmente, é norma nos dias que correm – mas é sustentado, fluente e não se entrega à inércia nem a clichés ocos. Se o teor das suas mensagens não é propriamente original, o mesmo não se pode dizer da forma como o transmite. E a forma, neste caso, determina a diferença no meio de tanta indiferença.
Londres, outra vez. Aparentemente anda meio mundo a tentar perceber quem se esconde por trás do alter ego Banksy. Trata-se de alguém que faz da arte urbana – leia-se qualquer coisa entre o grafitti, o stencil e a intervenção criativa pura e dura – a sua vida e que demonstra ter um discurso social (e político, inevitavelmente) coeso e consciencioso. Talvez o teor das mensagens que tenta passar não seja extraordinariamente profundo ou original – discurso anti-, infelizmente, é norma nos dias que correm – mas é sustentado, fluente e não se entrega à inércia nem a clichés ocos. Se o teor das suas mensagens não é propriamente original, o mesmo não se pode dizer da forma como o transmite. E a forma, neste caso, determina a diferença no meio de tanta indiferença. Apesar de Banksy permanecer no anonimato, o seu trabalho está longe de ser um segredo bem guardado. A sua arte – de uma maneira ou de outra, apelativa – tem sido frequentemente abordada pela imprensa generalista, umas vezes sob a forma de acusações de vandalismo – ainda que talentoso – outras vezes para lhe gabarem a coragem e criatividade. Mais uma vez, a indiferença fica em casa. Para percebermos porquê, e antes de nos embrenharmos na aventura musical deste artista multifacetado – que também a tem – comecemos por passar em revista algumas das instalações/intervenções (?) mais emblemáticas de Banksy.
Apesar de Banksy permanecer no anonimato, o seu trabalho está longe de ser um segredo bem guardado. A sua arte – de uma maneira ou de outra, apelativa – tem sido frequentemente abordada pela imprensa generalista, umas vezes sob a forma de acusações de vandalismo – ainda que talentoso – outras vezes para lhe gabarem a coragem e criatividade. Mais uma vez, a indiferença fica em casa. Para percebermos porquê, e antes de nos embrenharmos na aventura musical deste artista multifacetado – que também a tem – comecemos por passar em revista algumas das instalações/intervenções (?) mais emblemáticas de Banksy. No departamento das intervenções politizadas, Banksy conta com um currículo, no mínimo, impressionante. Viajou para o México para pintar uma série de murais dedicados à causa Zapatista; conseguiu retratar a esperança no muro que se ergue entre Israel e a Palestina (esperança essa que lhe valeu a participação involuntária num tiroteio e que confirmou a sua aptidão para trabalhar em serviços secretos); ocupou um armazém em Los Angeles, decorou-o como se de uma casa se tratasse e juntou ao conjunto um elefante (vivo) pintado com o mesmo padrão do papel de parede com que cobriu o armazém, numa clara alusão ao muito britânico e proverbial “
No departamento das intervenções politizadas, Banksy conta com um currículo, no mínimo, impressionante. Viajou para o México para pintar uma série de murais dedicados à causa Zapatista; conseguiu retratar a esperança no muro que se ergue entre Israel e a Palestina (esperança essa que lhe valeu a participação involuntária num tiroteio e que confirmou a sua aptidão para trabalhar em serviços secretos); ocupou um armazém em Los Angeles, decorou-o como se de uma casa se tratasse e juntou ao conjunto um elefante (vivo) pintado com o mesmo padrão do papel de parede com que cobriu o armazém, numa clara alusão ao muito britânico e proverbial “


 É muito mais que uma coincidência feliz que tenha sido Danger Mouse a remisturar os temas. Afinal, estamos a discorrer sobre dois artistas que na sua esfera criativa operam de maneira muito semelhante. Os quadros subvertidos de Banksy não ficam a dever em nada ao amplo legado de mash-ups que lançou danger mouse – a popularidade apareceu depois da “edição” do seu Grey Álbum que misturava com mestria o Black Album de Jay-z com o White Album dos Beatles, fazendo crer que os dois álbuns tinham sido separados à nascença apesar de desfasados no lançamento em quase quatro décadas. Ninguém diria que dois anos depois – the Grey Álbum começou a circular em 2004 – danger mouse seria responsável, entre muita outra coisa, pela produção de um álbum de gorillaz e pelo single deste Verão – crazy, gnarls barkley, goste-se ou não se goste. O atestado de genialidade começa a ganhar contornos bem reais por via da diversificação dos talentos de produção quando o mesmo dm volta a surpreender no último álbum de sparklehorse – banda excelsa do circuito indie, que se associa ao hip hop com a mesma facilidade com que se associa a floribella ao free jazz.
É muito mais que uma coincidência feliz que tenha sido Danger Mouse a remisturar os temas. Afinal, estamos a discorrer sobre dois artistas que na sua esfera criativa operam de maneira muito semelhante. Os quadros subvertidos de Banksy não ficam a dever em nada ao amplo legado de mash-ups que lançou danger mouse – a popularidade apareceu depois da “edição” do seu Grey Álbum que misturava com mestria o Black Album de Jay-z com o White Album dos Beatles, fazendo crer que os dois álbuns tinham sido separados à nascença apesar de desfasados no lançamento em quase quatro décadas. Ninguém diria que dois anos depois – the Grey Álbum começou a circular em 2004 – danger mouse seria responsável, entre muita outra coisa, pela produção de um álbum de gorillaz e pelo single deste Verão – crazy, gnarls barkley, goste-se ou não se goste. O atestado de genialidade começa a ganhar contornos bem reais por via da diversificação dos talentos de produção quando o mesmo dm volta a surpreender no último álbum de sparklehorse – banda excelsa do circuito indie, que se associa ao hip hop com a mesma facilidade com que se associa a floribella ao free jazz. É da junção de esforços destas duas personagens de trajectos sinuosos e inspiradores que surge este belíssimo manifesto, cujo principal mérito é demonstrar que, cada vez mais, urge fazer diferente. Sem querer entrar num despropositado registo de reflexão sobre o papel social e a eficácia intervencionista da arte , parece-me perfeitamente ridículo não reconhecer mérito nestes dois pequenos génios criativos – que o mundo trata de catalogar como “menores” – e que se apoderam, literal e abertamente, de tudo o que o seu “meio” lhes tem para oferecer para lhe retribuírem com transformação. Pegam no igual para fazer o original, pegam no passado e, sem querer, lá estão eles a desenhar (respectivamente, sem e com aspas) o futuro. Numa altura em que as majors se andam a acotovelar para tentarem escapar a um destino certo e determinado por três caracteres – mp3 – em que a imagem se sobrepõe sobejas vezes à música – nada de novo, mas nem por isso menos revoltante – é bom saber que um ou dois génios criativos continuam a ser suficientes para, com vontade, superarem toda e qualquer campanha de marketing. O crime, quando é assim, compensa.
É da junção de esforços destas duas personagens de trajectos sinuosos e inspiradores que surge este belíssimo manifesto, cujo principal mérito é demonstrar que, cada vez mais, urge fazer diferente. Sem querer entrar num despropositado registo de reflexão sobre o papel social e a eficácia intervencionista da arte , parece-me perfeitamente ridículo não reconhecer mérito nestes dois pequenos génios criativos – que o mundo trata de catalogar como “menores” – e que se apoderam, literal e abertamente, de tudo o que o seu “meio” lhes tem para oferecer para lhe retribuírem com transformação. Pegam no igual para fazer o original, pegam no passado e, sem querer, lá estão eles a desenhar (respectivamente, sem e com aspas) o futuro. Numa altura em que as majors se andam a acotovelar para tentarem escapar a um destino certo e determinado por três caracteres – mp3 – em que a imagem se sobrepõe sobejas vezes à música – nada de novo, mas nem por isso menos revoltante – é bom saber que um ou dois génios criativos continuam a ser suficientes para, com vontade, superarem toda e qualquer campanha de marketing. O crime, quando é assim, compensa.




 O presumivelmente difícil segundo álbum (no qual se inclui a música que aqui se disponibiliza) conseguiu a proeza de subir a parada. As canções continuam lá, a acutilância da palavra e da produção também, mas Skinner acrescentou ao álbum uma uma identidade narrativa que percorre as onze faixas de a grand don’t come for free e que o eleva, sem o mínimo exagero, ao estatuto de épico. Simplificando, este álbum conta uma história. Uma história em 11 tomos que gira, sempre, em torno de Skinner. A coerência é tão essencial à audição deste álbum que desrespeitar a cronologia dos eventos (leia-se: das faixas) esvazia, dramaticamente, o sentido e impacto da coisa.
O presumivelmente difícil segundo álbum (no qual se inclui a música que aqui se disponibiliza) conseguiu a proeza de subir a parada. As canções continuam lá, a acutilância da palavra e da produção também, mas Skinner acrescentou ao álbum uma uma identidade narrativa que percorre as onze faixas de a grand don’t come for free e que o eleva, sem o mínimo exagero, ao estatuto de épico. Simplificando, este álbum conta uma história. Uma história em 11 tomos que gira, sempre, em torno de Skinner. A coerência é tão essencial à audição deste álbum que desrespeitar a cronologia dos eventos (leia-se: das faixas) esvazia, dramaticamente, o sentido e impacto da coisa. Ao longo das primeiras dez faixas acontece um pouco de tudo ao nosso pobre companheiro. Para o caso interessa apenas referir que este canalha chega completamente devastado à décima faixa, de coração trinchado, sem saber das suas poupanças, com a televisão avariada e com um par de intrigas mal resolvidas entre si e o seu melhor amigo. A faixa que aqui fica é um testemunho da comovente sinceridade do tipo que escreve estas músicas e é especial porque verbaliza o beco sentimental que tantas vezes habitamos e que não conseguimos ou não queremos assumir. Esta coragem displicente é, afinal, o que separa Skinner de tantos outros comuns mortais que se lançam no mundo da música. Mais humano que isto? Impossível.
Ao longo das primeiras dez faixas acontece um pouco de tudo ao nosso pobre companheiro. Para o caso interessa apenas referir que este canalha chega completamente devastado à décima faixa, de coração trinchado, sem saber das suas poupanças, com a televisão avariada e com um par de intrigas mal resolvidas entre si e o seu melhor amigo. A faixa que aqui fica é um testemunho da comovente sinceridade do tipo que escreve estas músicas e é especial porque verbaliza o beco sentimental que tantas vezes habitamos e que não conseguimos ou não queremos assumir. Esta coragem displicente é, afinal, o que separa Skinner de tantos outros comuns mortais que se lançam no mundo da música. Mais humano que isto? Impossível.